

“Países que, como o Brasil, viveram episódios trágicos de tribunais de exceção, abraçam, corretamente, a ideia de que, na dúvida, o juiz deve acolher sempre a interpretação mais benéfica aos réus. Condenar um inocente é a falência dos sistemas jurídicos democráticos. (…) Daí a necessidade de refletir com cuidado sobre a ideia de prova. (…) Por isso, a tarefa dos ministros é delicadíssima, sobretudo no momento em que aparecem como réus figuras que detinham enorme autoridade. Eles precisam balancear o respeito ao devido processo legal e a obrigação de não permitir que ilícitos deixem de ser punidos.”
Que me desculpe o “analista” de cujo texto, publicado ontem, com destaque, no pé da página A4 de O Estado de S.Paulo, destaquei por minha conta o que foi transcrito acima (a íntegra vai abaixo). Ao que me conste, no nosso bom Direito, nenhum Juiz tem ou alguma vez teve qualquer “obrigação de não permitir que ilícitos deixem de ser punidos”. Muito menos “balancear o respeito ao devido processo legal” alguma vez pôde ou poderá ser entendido como necessário ou conveniente ao bom ofício de um bom Juiz. Pelo contrário.
Não posso imaginar, pois, que uma Ministra do STF tenha comentado que “nos chamados delitos de poder, quanto maior o poder ostentado pelo criminoso, maior a facilidade de esconder o ilícito” – o que nada mais é que uma obviedade – na mais remota intenção de extrapolar sua função e/ou de fazer que outros atuem segundo o que ela mesma, a Ministra, que tem poder, pudesse eventualmente desejar ou não desejar.
Juízes têm, sim, a obrigação de bem julgar, com consciência, o que lhes é apresentado nos autos. E têm a obrigação de ater-se à Lei e ao processo legal, portanto, a obrigação de muito bem conhecê-los. Nada mais. O que já é um bocado consideravelmente árduo. A menos, é claro, que queiramos conceder aos Juízes (ou a alguns deles) a prerrogativa de que se comportem como “justiceiros”, e que nos cause um especial prazer vê-los empenhados em punir grupos ou indivíduos com os quais possamos particularmente antipatizar e em recompensar os que nos pareçam suficientemente simpáticos. Naquilo que seria… um “tribunal de exceção”, por certo!
Aliás, a que “tribunais de exceção” o “analista” se refere? Quantos e quais “tribunais de exceção“ correspondendo a quantos e quais “episódios trágicos” houve em nosso País nos últimos, digamos, 100 anos, para não chegarmos muito mais longe?
Que eu saiba, poderíamos, no máximo, apontar um, mas apenas um único – e olhem lá!: o Tribunal de Segurança Nacional (TSN), criado após a Intentona de 1935 e em plena vigência da Constituição de 1934 pela lei nº 244 de 11 de setembro de 1936 no primeiro Governo Vargas. Esse Tribunal, que tinha a função de julgar crimes políticos e contra a economia popular, foi extinto em 1945. Nenhum outro “tribunal de exceção” houve em nossa história recente – exceto, é claro, se quisermos considerar os “tribunais revolucionários” marginais ao Estado, formados na guerrilha, que resolveram executar alguns tantos em “processos sumários”. Ou estaríamos aqui confundindo a atribuição política conferida à “Comissão da Verdade” – esta, sim, “de exceção” – com a atribuição dos Tribunais de Justiça?
A encabeçar a “análise” (e o juízo), foi chamado o personagem Odorico Paraguaçu, que, representando um “político sem ética”, teria sido Prefeito de Sucupira, cidadezinha do interior nordestino na ficção levada ao público pela televisão brasileira em capítulos de estrondoso sucesso. Muito bem: mostrou-se Odorico muito bem mostrado na novela. Vai daí quê?
Vai daí que acreditar que a força da Lei e a do processo legal possam ser instrumento eficaz para a limitação do poder de mando dos “Odoricos” da realidade atual em nenhuma hipótese significará o mesmo que insinuar que um debate entre os brasileiros sobre “a conexão entre ilícito e autoria” seja um instrumento hábil para avaliar a forma como os Ministros do Supremo devam ou não devam considerar quaisquer provas ou a ausência delas em quaisquer processos.
Vai daí, também, que fica, dependurada no ar, a pergunta que é muito grave: a quem e a que pretende aproveitar uma “análise” como essa e outras tantas semelhantes já publicadas em espaços nobres, destinados à Política Nacional? Qual terá sido exatamente a sua intenção? Em um ambiente policialesco como o que hoje nos envolve – ambiente esse, é bom que se diga, não exatamente criado pela Justiça brasileira – como será ela compreendida pelo público leigo leitor?
O perigo do democratismo manco é que ele é irmão gêmeo do autoritarismo gago. Ambos sempre se nos apresentam sorrindo e de mãos dadas – o que nem sempre permite que distingamos um do outro. Mas nem a percepção de um nem a percepção do outro exigirá que provas de sua realidade sejam consideradas. Ou, melhor dizendo, a evidência dos resultados da confusão que se faz na consciência dos brasileiros é tamanha que dispensa, em absoluto, pelo número de vítimas e pelo grau dos danos, a consideração de provas, qualquer que seja a natureza delas.
Alguém na grande Imprensa já se lembrou de sugerir um debate a respeito desse processo que dia após dia apenas mais se agrava? Tenho cá comigo que esse debate seria bem mais correto, bem mais produtivo e bem mais saudável ao nosso País que uma discussão sobre o enredo e os personagens de qualquer novela, antiga ou nova.
——————————————————–
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,odorico-e-a-natureza-das-provas-,932062,0.htm
Odorico e a natureza das provas
18 de setembro de 2012 – O Estado de S.Paulo
Análise: José Garcez Ghirardi
Odorico fazia e desfazia em Sucupira. Mandava empastelar o jornal oposicionista, não pagava o salário de Chico Moleza e, com dinheiro público, contratava como delegado um notório assassino, tudo na esperança de inaugurar o cemitério, legado que sintetizava sua ideia de progresso. Quando os desmandos passavam do ponto, não era ele quem sofria as consequências, mas seu assessor e notório pau-mandado, Dirceu Borboleta.
Dias Gomes nos ajuda a entender uma questão jurídica de enorme importância para os regimes democráticos: a natureza das provas nas ações penais. Boa parte das divergências sobre a Ação Penal 470 centra nesse ponto. Países que, como o Brasil, viveram episódios trágicos de tribunais de exceção, abraçam, corretamente, a ideia de que, na dúvida, o juiz deve acolher sempre a interpretação mais benéfica aos réus. Condenar um inocente é a falência dos sistemas jurídicos democráticos.
Isto não significa, contudo, que todos os delitos produzam provas de igual natureza, nem que haja um modo único de se estabelecer a conexão entre ilícito e autoria. A ministra Rosa Weber, por exemplo, já observou que “nos chamados delitos de poder, quanto maior o poder ostentado pelo criminoso, maior a facilidade de esconder o ilícito”. O poder é, justamente, a capacidade de fazer com que outros atuem segundo se deseja. Assim, ilícitos praticados por meio da influência sobre terceiros tendem a deixar vestígios materiais em relação a quem age, mas não a quem manda. Daí a necessidade de refletir com cuidado sobre a ideia de prova. Deixar triunfar os que burlam as leis é também um fracasso da justiça e solapa a crença nas instituições, pois invalida o princípio de que ninguém está acima da lei.
Por isso, a tarefa dos ministros é delicadíssima, sobretudo no momento em que aparecem como réus figuras que detinham enorme autoridade. Eles precisam balancear o respeito ao devido processo legal e a obrigação de não permitir que ilícitos deixem de ser punidos. “Juiz patifento. Sempre desconfiei desse juiz”, diz Odorico ao ver seu poder de mando ser limitado pela força da lei.
A clareza dos ministros sobre como entendem as provas nesse estágio do processo é essencial para que os brasileiros possam debater o julgamento e acolher as decisões com mais serenidade que Odorico.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
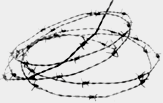

Permitida a reprodução total ou parcial desde que citados autor e fonte. ®2003 – 2022 www.minhatrincheira.com.br todos os direitos reservados.